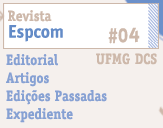

Imagem e texto em “O livro de cabeceira”
Oswaldo
Resumo
Este artigo discute a relação entre imagem e texto em “O livro de cabeceira”, filme do diretor Peter Greenaway. A complexidade de construção estética não se constitui apenas como um deleite visual ou um gesto virtuoso de um realizador contemporâneo, e muito menos como o resultado de um pastiche pós-moderno de diferentes campos de produção técnica da imagem. Greenaway propõe mais. Suas diversas influências estéticas confluem em um filme forte, complexo e processual, em que o uso destas matrizes não se encerra em apenas uma soma de suas potencialidades e sim na geração de algo novo e original. Todo um acervo referente à representação pictográfica, fotográfica, cinematográfica, videográfica é resgatado e reapropriado segundo moldes contemporâneos, que refletem por sua vez discussões contemporâneas acerca do corpo, da arte e da experiência com o cinema.
Palavras-chave:
Texto, imagem, hibridismo, Greenaway.
Introdução
A idéia de que ainda não se viu nenhum cinema desvinculado das palavras foi a prerrogativa para o lançamento de "O livro de cabeceira". Nele, o texto é levado ao limite nos diversos idiomas falados e escritos, nas legendas, nas paredes, nas luzes e no corpo humano. O diretor apresenta a justificativa: "Vocês querem texto? O cinema quer texto? O cinema tem a pretensão de prescindir de texto? Então tomem texto para zombar daquela impressão presunçosa de que o cinema é feito de imagens" (1). Atacar o mal com o próprio mal parece ser a escolha feita por Greenaway. Um filme manifesto? Provavelmente não. O diretor não desmerece a grande capacidade que a literatura tem de incitar a imaginação humana, e sobre este aspecto considera que "o cinema não é o melhor veículo para contar histórias". O ponto de sua crítica é a herança deixada por D.W. Griffith, que segundo ele "escravizou o cinema ao romance do século dezenove". A força da imagem em "O livro de cabeceira" se torna o contraponto ideal para essa supervalorização do texto.
Cruzamentos
Seguindo o mesmo princípio de formação dos ideogramas (tão presentes no filme), podemos afirmar que imagem e texto estão representados de forma indissociável neste filme. A relação entre duas ou mais imagens pode gerar um conceito maior ou um texto que extrapole a simples união dos elementos iniciais.
Este é o princípio de montagem intelectual proposta pelo cineasta Eisenstein:
A questão é que a cópula (talvez fosse melhor dizer a combinação) de dois hieróglifos da série mais simples deve ser considerada não como sua soma, mas como seu produto, isto é, como um valor de outra dimensão, outro grau; cada um, separadamente, corresponde a um objeto, a um fato, mas sua combinação corresponde a um conceito. (Eisenstein, 2002, p.36).
Esta "outra dimensão" citada pelo cineasta russo parece se vincular de alguma forma a "O livro de cabeceira". A "espessura" (Dubois, 2004) das imagens do filme, sedimentada no constante jogo de construções em janela e com o uso dos efeitos de sobreimpressão, propõe a construção de um produto de relações estabelecidas entre diversos elementos reunidos sob a forma de um quadro apenas. Esta noção de semelhança entre as teses de Eisenstein e o trabalho do cineasta britânico foi tema de um artigo da prof. Yvana Fechine (2004) intitulado "Eisenstein como livro de cabeceira". Nele a autora retoma a partir da obra de Greenaway a maneira como a escrita ideográfica se relaciona com a montagem intelectual, idéia que o próprio diretor russo defendeu em 1929 no artigo "Fora de quadro". Sobre o uso do efeito de sobreimpressão, Dubois (2004) diz que se trata de "recobrir e ver através. Questão de multiplicação da visão". Em "O livro de Cabeceira" o uso de janelas também é marcante.
Se a sobreimpressão lidava com imagens globais associadas em camadas transparentes, totalidades "fundidas" (e encadeadas) na duração, as janelas operam mais por recortes e por fragmentos (sempre de porções de imagens) e por confrontações ou "agregados geométricos" destes segmentos (ao sabor das formas-recortes da janela). Não mais um sobre o outro, mas um ao lado do outro. (Dubois, 2004, p. 80).
A sobreimpressão e o uso de janelas, duas grandes características das experimentações videográficas dos anos 80, adquirem em Greenaway não apenas um caráter arrojado, mas também inerente ao mecanismo de construção da própria estória (embora já tenha sido dito que o uso de janelas em Greenaway também reflita a influência dos computadores multitarefa. Realmente é muito raro que uma pessoa use o computador para apenas uma tarefa e se dedique a ela integralmente em seu desktop. O mais comum é que várias janelas estejam abertas ao mesmo tempo). Desta forma, o texto não se desprende da imagem, ou seja, ambos estão intimamente conectados e só existem a partir desta relação, o que demonstra como o mecanismo de construção das imagens se interliga com o intricado nível narrativo do filme. Um pensamento de um dos calígrafos de Nagiko ilustra bem esta situação: "A palavra significando chuva devia cair como chuva. A palavra significando fumaça devia flutuar como fumaça". Em “O livro de cabeceira” não há um ponto físico de repouso na imagem, tudo é transitório e sujeito a mudanças. Novas informações podem surgir a qualquer momento. No nível narrativo, a mesma idéia de multiplicidade. Temos a estória de Nagiko no presente (colorida) e no passado (em preto e branco), as frases e expressões de Sei Shonagon e as imagens do livro de cabeceira (quase como um filme-texto).
A noção de uma montagem onde os planos são conectados ao longo de uma linha temporal contínua não existe neste filme. Mesmo a estória de Nagiko sofre constantes interferências de outros campos estéticos e narrativos em sua continuidade. Como representar de forma precisa as analogias entre Nagiko e a cortesã Sei Shonagon? Como ligar as duas estórias de vida separadas por mil anos de diferença mas ligadas eternamente pelo aspecto sensível? A questão formal representada na idéia de múltiplos regimes técnicos é capaz de solucionar estas questões. Esta nova imagem criada, além de se adaptar aos objetivos narrativos do filme, também promove o vislumbre de outras questões relativas ao tempo fílmico. Na cena do casamento de Nagiko, durante o ato cerimonial, uma grande janela com a imagem do quarto onde os dois tentam dormir juntos é incrustada na parte inferior da tela. Nagiko já casara contra a sua vontade, e no quadro incrustado, podemos ver as conseqüências deste início mal-resolvido.
Nesta mesma noite, o casal já tem sua primeira briga pelo fato do marido se recusar a repetir a tradição de pintura no rosto de Nagiko. No conjunto da imagem, temos a representação do início do elo do casal e o início do término da relação. Tudo em um evento simultâneo. Somos confrontados com duas grandes matrizes estéticas e narrativas: a estória de Nagiko e sua arte de pintura/poesia em corpos e Sei Shonagon e suas impressões acerca do mundo escritas em seu livro de cabeceira. As duas se cruzam durante todo o filme, seja materialmente através da sobreimpressão, do uso de janelas ou da divisão de tela ou narrativamente na conjugação de temas, questionamentos e trajetórias de vida. Na primeira cena do filme, Nagiko criança é pintada pelo pai em seu aniversário. Subitamente a atmosfera tradicional e familiar é quebrada com a representação de um Japão moderno, industrializado e urbano. Uma pequena janela se abre no canto superior direito da tela e apresenta a prévia do que será apresentado a seguir: um desfile de moda. Este primeiro quadro híbrido é formado por dois instantes diferentes: o primeiro se caracterizando mais como um cartão-postal com a função de apresentar o ambiente onde o filme irá acontecer, e o segundo por introduzir certo sentimento de estranhamento. Não sabemos exatamente o que está acontecendo naquela pequena janela. A expectativa é satisfeita quando um corte brusco nos leva ao desfile. Agora podemos ver com clareza que Nagiko desfila em uma passarela à noite. Ela agora é adulta. De forma mesclada com estas imagens da passarela, Shonagon enumera diversos pensamentos e impressões sobre aquilo que ela considera elegante, como ovos de patos, flor-de-glicínia e flor de ameixa coberta de neve. Durante o relato, sua imagem aparece em uma janela retangular centralizada na tela, sendo substituída pela imagem de cada exemplo citado à medida que ela o narra. No fundo da tela, podemos perceber também a página do livro de cabeceira tal qual estivéssemos olhando a página real e material. Estas impressões são ainda mescladas com outras cenas em sobreimpressão da infância de Nagiko. Outro momento do filme em que a multiplicidade visual é colocada em evidência é aquele da preparação do papel na empresa do editor de Nagiko. Cada procedimento específico de corte ou pintura é capturado pela câmera de diversas formas e para que esta riqueza de olhares não seja perdida, a tela se divide em quatro janelas diferentes, cada uma mostrando uma parte da ação. O movimento de preparação do produto final é completamente esquadrinhado por estes diferentes pontos de vista, não restando mais mistério algum naquele ato. Tudo foi absolutamente catalogado. O mesmo acontece quando a pele do corpo de Jerome é retirada. Podemos ver a incisão do bisturi, o planejamento dos cortes pela equipe, a pele que acabou de ser retirada sendo lavada e tratada, e por fim, o livro de pele pronto. Este complexo vislumbre de conhecimento visual simultâneo não seria, por exemplo, possível na fotografia. Teríamos que olhar para cada foto de cada vez, imaginar o tipo de movimento que está sendo executado e construir um pequeno roteiro em nossa cabeça. Mesmo que as fotos fossem organizadas de forma temporal, ainda ficaríamos presos a este deslocamento singular do olhar ("só posso olhar uma foto de cada vez"). No entanto, a fotografia é um meio de catalogação e classificação muito mais reconhecido do que o cinema e neste aspecto, "O livro de cabeceira" se assemelha muito a ela em objetivo. Certamente não é possível também olhar para todas as janelas do filme ao mesmo tempo. Opções terão que ser feitas. A possibilidade que nos interessa aqui é a de construção de linhas de imagens diferentes por diferentes espectadores. Desta forma, não existe somente um ciclo de um processo específico, e sim diversos, que variam de acordo com as escolhas feitas pelo olho. Se tivéssemos uma série de fotos de todo o processo de confecção do papel, para citar um exemplo, a única forma de simular o efeito cinematográfico de Greenaway seria selecionar somente alguns desses exemplares e organizá-los de forma temporal. As possibilidades advindas daí seriam diversas, assim como no filme. Outro exemplo da contaminação do cinema de Greenaway pelo ato fotográfico pode ser visto na cena em que Nagiko é fotografada por Hoki em cima de um prédio. Com cada apertar dos botões da máquina, a imagem do filme se torna a foto tirada em alto-contraste. Esse efeito gera um resultado quase publicitário na cena, como se a personagem fizesse parte de um anúncio de um novo produto ou algo relativo. Outro regime de imagens se soma desta forma à já citada "espessura" da imagem cinematográfica do diretor: o das fotos tratadas digitalmente. Entretanto, o momento mais significante é aquele em que Hoki encontra Nagiko e um homem inglês em um quarto. O fotógrafo começa então a captar cada parte do corpo pintado dos dois personagens. O resultado da sessão de fotos é uma grande imagem fragmentada em que a organização espacial de cada foto restitui de forma aproximada a dimensão total da pintura ideográfica geral dos dois corpos. Com isso, podemos ver que o corpo se torna no filme um objeto catalogável. Tal como as idéias de André Bazin sobre a ausência da característica subjetiva no processo fotográfico, aqui o que parece ser importante é a relação objetiva na captação do objeto, quase como se a foto fosse realmente uma página de livro e o ato fotográfico a simples inscrição da realidade do corpo em um novo modelo de suporte.
O corpo humano, unidade tridimensional e detentora de diversas possibilidades de representação imagética, se torna apenas um suporte aos poemas ideográficos de Nagiko. A foto pretende ter a função de tornar plano e organizável o que era ligado a uma materialidade intricada e complexa de se olhar. Se antes as pinturas seguiam o relevo da pele e da carne de cada um dos homens, agora ela pode ser vista de maneira mais simples, através do manusear das mãos. A fotografia se tornou um instrumento de organização.
A aquisição fotográfica de mundo, com sua produção ilimitada de anotações sobre a realidade, torna tudo homólogo. A fotografia não é menos redutora quando se faz compiladora do que quando revela formas belas. Ao desvelar a coisificação do ser humano, a humanidade das coisas, a fotografia transforma a realidade em tautologia. (SONTAG, 2004. p.127).
Entretanto quando Nagiko resolve enviar este material ao editor, ele lhe devolve afirmando que "aquilo não valia sequer o papel em que está escrito". A personagem então propõe uma idéia a seu amante Jerome: que ele vá até ao editor com o seu corpo coberto pelas pinturas ideográficas. Quando o personagem chega até o editor, a proposta de publicação é imediatamente aceita por ele, que se excita ao ver seu amante nu e coberto pelo texto. Nagiko sabia de antemão que os dois mantinham uma relação amorosa. A força de presença do corpo foi capaz de tornar o texto mais interessante aos olhos do editor, tanto que ele iniciaria a partir daquele momento uma constante relação com Nagiko e seus poemas. Um paralelo pode ser inferido: o poema enquanto representação fotográfica de uma inscrição sobre o corpo não possui no filme a mesma importância do que seu valor de co-presença. A aura de uma composição sobre a carne é algo dotado de uma arrebatadora força estética e poética ao mesmo tempo. A carne pode ser tocada, cheirada e sentida, enquanto que a foto reduz tudo aquilo a uma experiência completamente diferente, baseada totalmente no sentido visual. Em suma, a poesia de Nagiko é dependente do corpo. A pintura é outro campo de explícita referência no filme. Um quadro de fato existe fisicamente, é dotado de forma, volume, peso, cheiro, rugosidade. Assim como o corpo humano. O pincel que toca os homens no filme é o mesmo que pinta um quadro: ambos atuam como uma extensão do outro ser que deseja, com sua destreza e com o uso dos materiais específicos, criar uma imagem que represente alguma coisa. Um dos calígrafos de Nagiko (na fase em que ela ainda não escrevia sobre os corpos, apenas era o suporte, a "página do livro") faz uma advertência à personagem em certo momento: "lembre-se que o pincel pode ser feito de madeira, mas que o escritor é só humano".
O escritor é só humano. Nagiko é uma pintora, mas sua destreza como artista está no mesmo nível de sua intimidade com a palavra. Ela se insere exatamente nesta relação estabelecida pelo ideograma, que possui como princípio a indivisibilidade entre imagem e texto. Toda imagem dever ser lida como texto, e todo texto como imagem. A pintura para Nagiko é escrita. E a escrita, pintura. Os textos de Nagiko se espalham durante a narrativa do filme sobre os mais diferentes lugares do corpo humano: cabeça, barriga, costas, genitália, pernas, língua. Nada é retratado de forma velada: temos acesso visual à totalidade do corpo destes homens, de vários pontos de vista diferentes. Esta diversidade de olhares sobre o corpo lhe confere, de certa forma, um status de objeto, pois não existe nenhuma alusão à intimidade ou a preservação da individualidade do ser. A condição de suporte dos textos da escritora é absolutamente aceita e nunca questionada. Outro momento em que o filme é construído de forma a valorizar a visibilidade é aquele em que os corpos de Nagiko e Jerome se envolvem sexualmente. Podemos ver as genitálias de ambos (inclusive a masculina, muito pouca retratada no cinema) e os movimentos dos corpos de maneira aberta. A nudez ou o sexo nunca são motivos de vergonha ou privacidade diante de outros personagens secundários. Seja na questão do processo de produção do papel dos livros e na meticulosa separação da pele do corpo de Jerome, no momento da pintura dos corpos e escolha da tinta, pincel e superfícies a serem preenchidas, na fotografia ou na crua retratação do sexo, "O livro de cabeceira" propõe uma relação visceral com o olhar humano. A visibilidade acontece de forma plena. Se pensarmos nas questões já levantadas relativas à complexidade estética de construção deste filme, é possível fazer a seguinte relação: da mesma forma que o quadro fílmico de "O livro de cabeceira" é dotado de grande "espessura", seja pela complexidade da montagem ou pelas interferências de outras matrizes estéticas (fotográfica, por exemplo), o processo de "esquadrinhamento" do corpo e dos processos manuais também possuem uma grande profundidade de representação e catalogação. Em suma, seja o processo mecânico e industrial, com um finalidade objetiva, ou artesanal, passional e intimista, a questão da segmentação de etapas compreensíveis é levada a fundo. A profundidade de representação do corpo e o poder de visibilidade do espectador constituem um dos eixos possíveis de serem analisados a partir de "O livro de cabeceira". A sensação que fica após se assistir o filme é a de que acabamos de participar de uma "experiência" fílmica múltipla.
Mais do que entender uma estória ou uma tipografia estética, fomos capazes de trabalhar as questões relacionadas à forma como enxergamos o cinema e como nos movimentamos em um intricado mundo de exuberantes imagens.
Experiência
Nagiko, quando resolve pintar e escrever sobre os corpos de diversos homens, deixa de ser a superfície na qual se pinta e passa a ser a autora, a pintora, a artista da imagem e da palavra. O corpo humano, reduzido a suporte, se comporta quase que exatamente como um livro, mas não um qualquer, e sim aquele dotado da magia sexual e carnal humana, o que realça a própria poesia presente nos ideogramas pintados. O filme se torna o mediador da poesia de Nagiko, quase como se estivéssemos tendo acesso a um livro-filme, ou um filme sobre um livro-corpo. Muito se tem acusado Greenaway de ser um autor labiríntico (lembrando Borges), inacessível ao espectador devido ao ritmo alucinante de imagens e referências históricas e artísticas imbuídas em seus filmes. Estas características levaram diversos analistas a considerá-lo um cineasta neo-barroco. Quando pensamos em um filme como “O livro de cabeceira”, esta situação é visivelmente presente: não podemos ter acesso à totalidade daquele mundo apresentado. Talvez o jogo seja este mesmo, propor uma experiência singular, pessoal, e nunca universal e totalizante, em suma, inacessível. A totalidade sempre estará lá, nas diversas referências à cultura oriental (algumas até obscuras para o espectador ocidental), nos embates e junções entre cinema, vídeo, fotografia, pintura e na própria relação texto e imagem, que reflete por sua vez uma discussão sobre o próprio estatuto do cinema como forma de arte.
De fato, o espectador em “O livro de cabeceira” faz escolhas, e este mecanismo parece ser uma manifestação política do próprio diretor. Ao dizer que o cinema hollywoodiano “não é mais capaz de satisfazer a imaginação humana”, Greenaway indiretamente afirma que não há lugar em “O livro de cabeceira” para qualquer experiência pasteurizada pela indústria e seus signos que repetem sempre os mesmos valores e para a inebriante ilustração de textos que se tornou grande parte do cinema. Contudo, ao contrário do que possa parecer à primeira vista (pelo uso constante de referências e experiências inalcançáveis em sua totalidade), o espectador é convidado a participar da construção da obra. Neste ponto, Greenaway se assemelha muito aos artistas contemporâneos que translocam a tradicional visão de que a obra de arte é sempre ligada unidirecionalmente ao campo da produção, possui certas regras e controles fixos e tem função e efeitos medianamente controlados. Isso em parte é explicado por sua origem nas artes plásticas e o trabalho que desenvolve em diferentes mídias, formatos e suportes, sejam eles livros, filmes, vídeos, multimídia, ópera e livros. A participação do espectador provocada pelo filme passa pelo viés do acontecimento e do evento. Assistir a um filme em que uma pessoa está manipulando o corpo de outra, através de pincéis, tintas, cores e símbolos, é de certa forma participar de um acontecimento. A câmera lança mão do lugar comum na captação e explicação de uma realidade e passa a capturar aquilo que aconteceu durante um instante fugaz, naquele lugar, com aquelas pessoas e naquelas circunstâncias. Estamos do lado do observador, do sujeito que espera pelo resultado final, do curioso, do apreciador e talvez até do voyeur. A diferença básica em relação a happenings ou exibições de body-art é a mediação do ato pela esfera do cinema, e nesse ponto, Greenaway se coloca de fato como um artista pós-moderno que trabalha com diversas mídias e estruturas em prol de uma obra de arte “total”. Mais importante do que relações do tipo “aquilo de fato aconteceu”, “aquilo de fato foi filmado”, é perceber que algo do “real” foi impregnado ao filme. Não o real balizado e compartimentalizado em uma função referencial, e sim algo que foge ao controle de um diretor ou de um realizador, ou seja, a essência do evento, da performance, da existência.
Considerações finais
René Magritte ao colocar em um quadro a legenda “Isto não é um cachimbo”, nos fez ver que a imagem por si só pode ser limitada, fragmentária, revelando apenas uma parte do todo significante/significado (metonímia) ou um primeiro sentido esteticamente envolvente. O exemplo clichê nos traz a seguinte questão: sem a legenda “isto não é uma cachimbo” seríamos capazes de ver que aquilo não era um cachimbo? Ou a imagem por si só, a representação, já seria capaz de delimitar nossa experiência com o mundo a ponto de aceitá-la como realidade concreta e inquestionável (“aquilo é um cachimbo”)? A legenda foi capaz de influenciar a imagem, criar um novo sentido para aquilo e ainda revelar um problema (que foi inclusive tema de um livro de Foucault). Concluir simplesmente que uma (1) imagem é um (1) discurso se torna então um processo muito complicado se tivermos que pensar nas várias interferências que podem cruzar seu caminho. No caso do cinema, sua própria concepção já é resultado de diversas escolhas feitas, sejam elas de caráter técnico, estético ou ético. É mais interessante pensar em uma imagem para vários discursos, sendo que ainda assim uma imagem nunca será propriamente apenas uma imagem.
A profusão de imagens e textos em “O livro de cabeceira” parece ser uma resposta contundente à simplificação mercantilista do mundo. Parafraseando Magritte, poderíamos dizer que o filme nos diz que não existe apenas um tipo de cinema, “Isto não é cinema”, que a imagem não precisa necessariamente se reduzir à ilustração, “Isto não é uma imagem”, e que o texto não é necessariamente apenas texto, “Isto não é um texto”. Epifanias à parte, Jacques Aumont revela que o simples ato de se filmar algo já implica na construção de um certo tipo de discurso: “(...) apenas o fato de representar, de mostrar um objeto de forma que ele seja reconhecido, é uma ato de ostentação que implica que se quer dizer algo a propósito deste objeto”. (AUMONT, p.90, 1995) Se a representação de um objeto já é um discurso em si, de acordo com a proposição do autor, a narração parece ser inerente a qualquer ato. “Deste modo, qualquer figuração, qualquer representação chama a narração, mesmo embrionária, pelo peso do sistema social ao qual o representado pertence e por sua ostensão”. (AUMONT, p.89, 1995). Nenhum objeto tem a capacidade de produzir discursos. Se alguém o faz, este é o homem. Aumont fala em “uma gama de valores dos quais é representante” e ainda em “peso de sistema social”. (AUMONT, p.90, 1995). Com isto entendemos que o discurso é produzido pelo homem, e reflete um determinado contexto social compartilhado, e muitas vezes, imposto (“peso”).Se a imagem é um discurso em si, este não é auto-reflexivo e auto-suficiente. Um discurso se faz por diversos textos, diversos contextos e diversas outras imagens. Uma imagem sempre leva a outra imagem, que leva a outra, e assim infinitamente. O jogo político implícito em qualquer discurso é muito amplo e geral, sendo difícil às vezes definir se aquilo que conhecemos é realmente novo, relevante ou se faz parte apenas de uma reconstrução de outras falas ou outros lugares. Este é próprio conflito pós-moderno, maneirista, neo-barroco. O mais relevante em relação à posição do espectador em “O livro de cabeceira” é que ele se confunde constantemente com o leitor. Isso porque o filme é inundado de textos de todas as origens, ocidentais e orientais, e pela forma com que são tratados: como imagem projetada, gráfica, pintada, escrita a mão, caneta, pincel, máquina de escrever, luz. E nesse jogo de interferências é que fica claro que, se o texto pode ser visto como imagem, o contrário também procede, ou seja, a imagem é também um texto. Em “O livro de cabeceira” nada acontece definitivamente isolado no campo do criador ou do receptor. O sentido possui sim estratos, caminhos a serem percorridos e se necessários, negados.
Contudo mesmo a negação faz parte de um pacto de liberdades e limites, baseado em um sistema de negociações livre de estruturas estéreis do tipo autoridade-subordinado, poderoso-subjulgado. O que vemos no cinema não é o mundo livre de mediação, mas uma projeção, uma escolha, um ponto de vista e um viés parcial. E mesmo as barreiras entre o que é ficção e o que é real encontram-se cada dia mais enevoadas e confusas, fazendo crer que vida e arte se misturam de maneira carnal. Será o mundo um ponto de vista?
Notas
1 Trechos do ensaio “Cinema: 105 anos de texto ilustrado”, de Peter Greenaway, publicado no livro organizado por Maciel (2004) citado nas referências ao final do artigo.
Referências bibliográficas
AUMONT, J. et al. A estetica do filme. Campinas, SP: Papirus, 1995
DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo. Cosacnaify, 2004
EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Rio de Janeiro. J. Zahar, 2002.
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo. Companhia das Letras, 2004.
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 2. ed. São Paulo: Ed. Senac, 2001.
FECHINE, YVANA in MACIEL, Maria Esther (org.). O cinema enciclopédico de Peter Greenaway. São Paulo. Unimarco Editora. 2004.